Nota da editoria: Originalmente publicado na Revista Verberenas (2021), nº 7, decidimos fazer a republicação desse texto devido ao site da Verberenas estar fora do ar por questão de problemas técnicos. Escrito em relação com uma série de publicações que inicia-se em 2018, com a resposta de Juliano Gomes a uma publicação de Heitor Augusto no blog Urso de Lata, Lorenna Rocha ensaia sobre o cinema negro e brasileiro, dando ênfase à produção artística e intelectual de mulheres negras. Para ler as publicações anteriores, você deve acessar os sites da revista Cinética e o blog Sessão Aberta.
Oi, Juliano!
Espero que tu esteja bem e com saúde.
Depois de tanto tempo lendo e relendo esses textos publicados por você, Heitor e Bruno, chego aqui para esticar o papo desses posicionamentos que se tornaram uma importante conversa pública acerca do cinema negro brasileiro. Endereço essa carta a você, a partir da revista Verberenas, para dar circularidade a esse debate, algo que parece ser — e ter sido — fundamental para o desenvolvimento dessa discussão.
Entendi quando você disse, lá no seu primeiro texto, que se sentiu convocado pelo Heitor a escrever, mesmo sem que ele tenha te endereçado algo. Ele fez perguntas espinhosas para aquele 2018. Quais filmes serão percebidos como “mais negros” que outros? Quais ‘mise en scène’ serão interpretadas como “mais próximas” de uma autoria negra do que outras?
Acho que elaboramos algumas respostas. Ou, talvez, nem tantas…
Mas gostaria de compartilhar que, quando olho para os seus últimos textos, sinto algo parecido: eles me convocam.
Queria te dizer também sobre as minhas motivações em fazer essa carta na Verberenas.
Sendo este um periódico construído por e dedicado aos cinemas produzidos por mulheres cis, trans, travestis e pessoas não-binárias, pareceu-me oportuno publicar esse texto por aqui. Não me inclino a essencializar meus sentidos por ser uma mulher cis negra etc.; mas o fato dessa discussão pública sobre cinema negro se pavimentar entre boys aparece como um sintoma dos mecanismos que circunscrevem e operam (n)a crítica cinematográfica. Não falo isso para apontar o dedo para você, Heitor ou Bruno — isso não é sobre individualidades! —, mas ao campo. E pelo reconhecimento de que ainda, nós, mulheres, sobretudo negras, encontramos dificuldades reincidentes para nos posicionarmos nesse meio.
Bom, essa não é uma carta sobre who can speak, confesso. O que me alimenta aqui é a possibilidade de elaborar caminhos alternativos, de dialogar com produções e pensamentos, sobretudo, de mulheres e negras acerca do cinema, na aposta de encontrar evidências e materiais que talvez não tenham sido levantados ou ganhado tanto destaque dentro das publicações que vocês fizeram anteriormente. Vislumbro mobilizar outras vozes para essa conversa, ansiando que ela encontre diferentes espaços e impulsione a elaboração de novos textos.
Ah, decidi criar uma nova numeração, visse?
Para todas as pessoas que estiverem lendo essa carta: recomendo enfaticamente o retorno aos outros textos. Vale muito a pena.
0.
No início de 2021, durante o programa AMPLI_AR – Oficina de Crítica Cinematográfica, que ministrei com Bruno Galindo na Mostra Negritude Infinita (CE), tentei mapear algumas perspectivas e tendências contemporâneas que estão tomando corpo no campo cinematográfico negro. Desenhei possíveis redes de circulação de ideias, buscando encontrar reverberações desses pensamentos em propostas curatoriais, nos festivais e na crítica. Nos últimos anos, foram publicados artigos e ensaios que fazem vibrar sentidos que nos aproximam das matérias que envolvem e estão em disputa no cinema negro brasileiro.
Olhando mais de perto, esses discursos e perspectivas apontam para uma comunidade amplamente marcada por dessemelhanças: em suas formas de olhar para o passado, em suas constelações fílmicas, em seus pontos de partida para a leitura do contexto contemporâneo e em suas sensibilidades sobre o que é (ou pode vir a ser) o cinema negro.
Essas ideias evidentemente instáveis em torno do cinema negro criam uma atmosfera trêmula que rompe com desejos de uniformidade, com o gosto palatável e admirável de ser black cinema numa foto ou numa live. As contradições estão postas e elas abrigam o potencial de desfazer certos signos que circundam as palavras “cinema” e “negro”. Te digo: acredito que buscar zonas de contato entre essas dissonâncias poderia mesmo nos direcionar a um campo co-criado entre vários agentes. Não como uma forma de coletivização forçada e simbolicamente construída por uma categorização (cinema negro), mas como uma maneira de nos lançarmos no risco e na radicalidade de viver o coletivo, em sua dinâmica viva e contraditória.
Discordâncias podem construir um campo.
E esse conjunto de cartas é uma evidência disso.
-1.
O aumento do número de festivais, mostras e outros espaços de cinema voltados para as produções fílmicas negras, suas estéticas e temáticas produziu a consolidação do que convencionalmente chamamos hoje de “cinema negro brasileiro”. A retórica do “abrir o debate” e do “cenário de escassez” já não faz mais tanto sentido. Heitor apontou isso lá em 2018, inclusive. Sendo esse cinema um corpo “vigoroso” e “heterogêneo”, compreender a formação de coletividades negras comprometidas com a cocriação de cenários dialógicos implica o reconhecimento não apenas de suas infinitas possibilidades estéticas, temáticas e políticas, mas também de seus modos de fazer, ocupar e construir projetos dentro do campo cinematográfico.
-2.
Ser preto e ser antirracista é a trend. Consumidas e apropriadas, esse é o lema. Pretos no topo [da Prada]! Se há navegação no sistema (ocupar cargos, festivais, grandes instituições, produzir filmes dentro de certos moldes por sobrevivência), também há risco de captura (ser ‘autêntico’, responder à expectativa do que é ser negro nas telas, vender as pautas políticas, comprar o discurso de empoderamento capitalista). Mas a real é que, na corrida para construirmos um chão todo nosso, temáticas, estéticas e discursos variados sobre ser negro na tela e na autoria fortalecem e enclausuram aquelas que escolhem viver com e/ou contra às instituições e expectativas que são projetadas em relação ao cinema negro.
-3.
Desobedecermos à transparência neoliberal e sermos descompromissadas com a “visibilidade messiânica” pode ser um caminho para hackear e recusar as demandas e performatividades esperadas em imagens convencionalmente e capitalisticamente compreendidas como negras.
O cinema negro é infinito, certo?
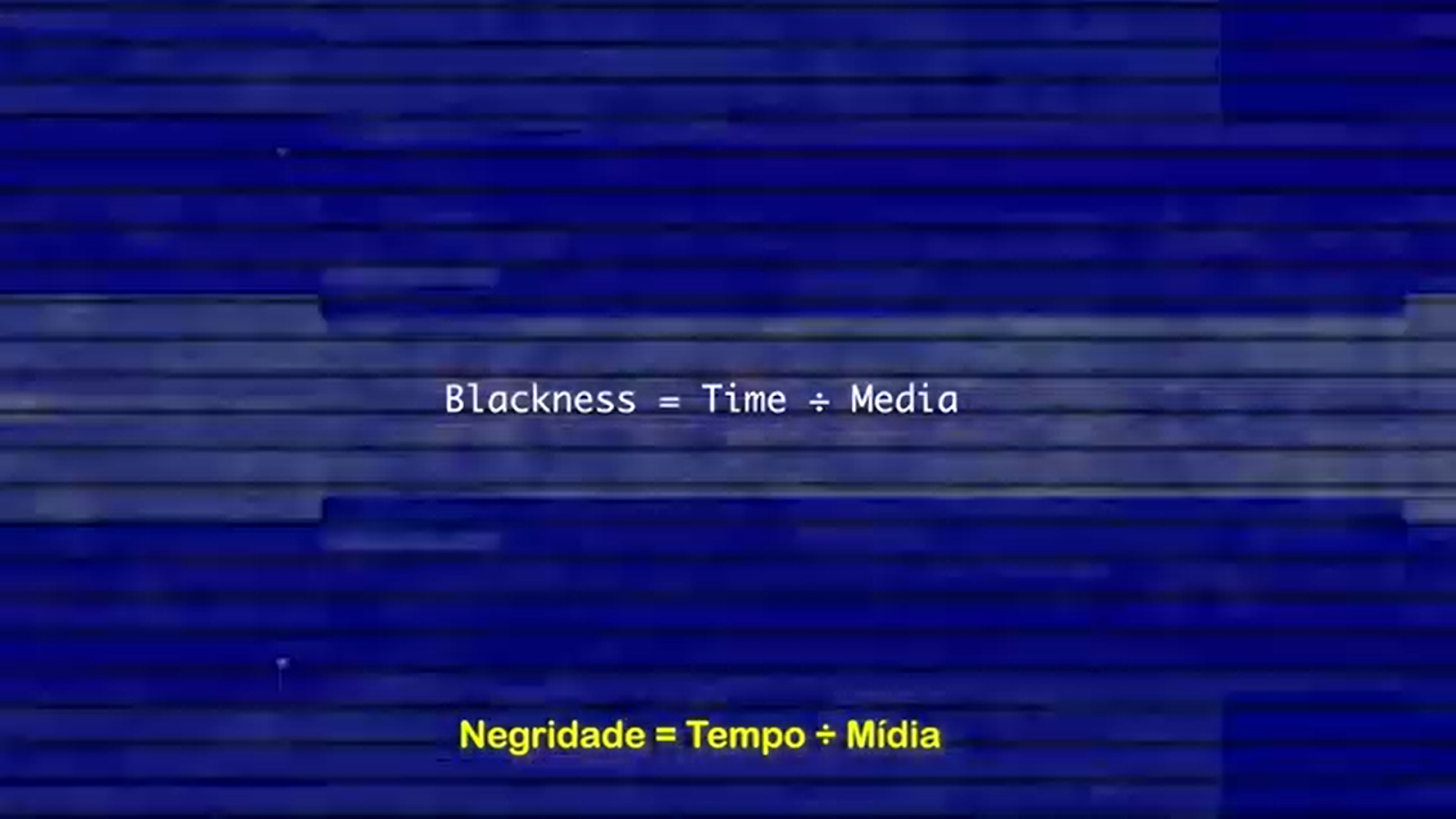
Blackness = Time ÷ Media = ∞ (Márcio Cruz, 2021)
-3.1
Se esse infinito negro não está ligado apenas à performatividade na e através da imagem, mas a um método e um modo de sentir e perceber o cinema negro, por que ainda legitimamos o gesto inaugural desse campo como aquele que se fundamentou em “avanços” estéticos e discursivos atrelados às perspectivas antirracistas — em uma evidente contraposição aos gêneros e personagens que habitavam as obras dos predecessores de Zózimo Bulbul? É infinito só no contemporâneo? E, se infinito, o assunto do filme não precisa ser evidentemente racial para a legitimação de uma linhagem, certo? Produzindo essa quebra, para onde esse infinito poderia apontar?
-4.
Nos últimos dois anos, dediquei-me a pesquisar as ações do Teatro Experimental do Negro (1945-1968). Revirando documentos e leituras bibliográficas, constatei que boa parte dos modos de narrar essa vasta e complexa experiência aderem-se aos olhares, escritos e memórias arquivados pelo seu “maior agitador”, Abdias Nascimento. Para grande parte de teóricas e pesquisadoras, a criação do TEN seria a ação fundadora dos teatros negros no Brasil: pela luta antirracista empreendida nos palcos brasileiros; por sua oposição aos modos de representação estereotipados acerca da negrura e por ter formado um corpo significativo de atores e atrizes negros na primeira metade do século XX.
Historiografar as ações do grupo unicamente a partir da perspectiva de Abdias, além de mascarar as contradições que atravessavam as experiências do grupo, produz apagamentos em relação a outras pessoas que participaram ativamente de sua construção, como Ruth de Souza, Haroldo Costa, Léa Garcia, Maria Nascimento, Aguinaldo Camargo, entre outras. A quem possa interessar, alguns veículos de imprensa da época retratavam o TEN como uma iniciativa coletiva, acredita?
Veja, estou mencionando aqui uma invisibilização que vem de dentro, pela aderência historiográfica às narrativas construídas durante décadas pelo porta-voz do TEN, que, sem dúvidas, é um dos intelectuais brasileiros mais importantes que temos. Só que eu aposto que é super possível admirarmos suas ações e ideias, sem necessariamente fazermos vista grossa às complexidades, às disputas e às contradições que habitaram um projeto tão multifacetado como o do Teatro Experimental do Negro.

Ruth de Souza em O Filho Pródigo (1947)
A tese de doutorado do Júlio Cláudio da Silva mexe bem nessas feridas: ao investigar o Arquivo Ruth de Souza (LABHOI-UFF), em conjunção com a biografia e as entrevistas concedidas pela atriz ao longo de sua carreira, o pesquisador faz uma série de operações historiográficas que contradizem e incidem nas narrativas convencionais acerca do TEN, o que possibilita o deslocamento do tom personalista e paternal projetado sobre a história e memória do grupo.
Outros dois pontos revisitados por ele e que, ainda hoje, são pouco investigados: a aderência do TEN ao discurso ideológico da democracia racial (o jornal Quilombo, por exemplo, dedicava uma coluna ao tema e recebia diversos intelectuais, entre eles, Gilberto Freyre, que assinou um texto já na primeira edição do veículo de imprensa) e a construção de discursos que produziram uma oposição frontal aos teatros de revista negros; que contribuiu para promover, até hoje, a secundarização de experiências comerciais e populares negras e de seus agentes, como João Cândido (De Chocolat), Pixinguinha, Grande Otelo e Ascendina dos Santos (Rosa Negra).
Bom, por que estou falando disso tudo?
Você usou um termo: “zózimocentrismo obsessivo”.
À primeira vista, parece distante a minha aproximação entre Abdias e Zózimo, uma vez que essa narrativa, no caso do cinema, não foi criada pelo próprio Bulbul, diferentemente do que ocorrera com Abdias… No entanto, posso elencar algumas coisas que são comuns entre as noções em torno do teatro e do cinema negros:
#1: Há uma figura paternalista e suas ações influenciam na construção dos entendimentos sobre a linguagem em perspectivas pretas (ex.: as dimensões política e antirracista são interpretadas como ações inéditas de seus “fundadores”, e marcam as definições contemporâneas acerca do campo cinematográfico e teatral negros);
#2: Nega-se um passado indigesto, que deve ser colocado em oposição à iniciativa proposta por essas figuras e/ou grupos, produzindo uma evidente hierarquia dentro do campo por meio da deslegitimação do que veio antes (no cinema, as chanchadas; no teatro, os teatros de revista negros — e nesse caso, os dois estão relacionados ao circuito comercial e popular);
#3: Os legados desses “fundadores” são sempre retomados no presente como meio de legitimação de suas realizações pioneiras, o que inviabiliza um olhar para ações anteriores ou circundantes aos seus atos inaugurais (Alma no Olho, no caso do cinema; fundação do TEN, no teatro).
Seria possível ir além desse binarismo determinante? Como fugir do desejo de sempre construir um inimigo em comum? Que tal abandonarmos a excepcionalidade e nos deslocarmos até Pista de grama (Haroldo Costa, 1958), Um é pouco, dois é bom (Odilon Lopez, 1971), As aventuras amorosas de um padeiro (Waldir Onofre, 1976) ou Na boca do mundo (Antonio Pitanga, 1978)? Se alguns deles foram perdidos, como olhar para seus rastros em meio às documentações? E por que não, criá-los? Fabulá-los?
Poderíamos deixar de pensar somente no agora e no desejo de “refutar o passado” — com o intuito de reelaboramos os procedimentos de investigação e os modos de narrar e fazer ver os cinemas brasileiros e negros, a partir de perspectivas críticas não brancas e não eurocêntricas? Documentar e elaborar o presente só são uma parte do trabalho. Em meio às noções de tempo que se baseiam na ideia de progresso para impor destruição naquilo que está por todos os lados, virar as costas a esses vestígios me soa terrivelmente branco.

Cinema de preto (Danddara, 2004)
-4.1
O curta Cinema de preto (Danddara, 2004) conecta o cinema negro ao Abdias e ao TEN… O intelectual negro é apresentado no filme como porta-voz da luta antirracista brasileira, que elabora uma crítica ao passado colonial do país e aponta para uma necessidade de oposição ao silenciamento e à imagem estereotipada que rondam os signos da negrura nos campos artístico e das lutas políticas. Coincidentemente ou não, temas caros ao cinema negro, né?
A escolha de inserir fotografias das montagens do TEN no curta não deve ter sido aleatória. Elas aparecem em conjunção ao texto enunciado por Abdias, mas ainda como fricção entre imagem projetada pelo filme e a materialidade de um passado artístico que ainda pulsa e jorra adubo fortuito para pensar o cinema negro. Nem deve ter sido ao acaso a escolha de entrar no acervo de Abdias e deixar a tela ser contaminada pelas cores vibrantes e os traços escuros das obras de Nascimento, conectadas ao cotidiano das ruas, dos terreiros e, sobretudo, ao trabalho protagonizado e ocupado por profissionais negros no cinema.
Como tu diz: pista quente!
-4.2
Vou retomar uma coisa: quando você fala em obsessivo, reconheço o termo numa ideia de apego, certo? Menos do que um delírio ou coisa parecida, acredito que há um movimento contínuo de aproximação historiográfica com o legado produzido por Zózimo Bulbul, seja em sua produção fílmica, como em seu projeto cinematográfico. Mas fico pensando: estamos debatendo seus projetos? Há um risco imanente da cristalização de sua figura. No entanto, não deveríamos cristalizar nenhum ou nenhuma intelectual negra que abriu e se mantém em nossos caminhos. Uma vez ouvi que desrespeitar essas figuras, no sentido de tirá-las de um pedestal e chamá-las para a conversa, seria o melhor que poderíamos fazer para honrar aqueles e aquelas que vieram antes de nós. E, mais uma vez, isso não é sobre individualidades. Não é a pessoa Zózimo que estamos “colocando em xeque”. Confrontá-lo e fazer perguntas a seus programas e iniciativas pode ser um caminho para construirmos diálogos e não fecharmos essas proposições em si mesmas.
-5.
“O momento é de transição, de disputa no moldar na mudança.”
Concordo.
E os seus escritos me fazem pensar em uma coisa: parece que essas disputas são sempre externas à comunidade, já percebeu? Só que, na real, nós também disputamos projetos, né? E isso pode ser bom. Aquilo que comumente chamamos de hegemônico, que tem cor, raça, gênero, sexualidade e produz a norma, pode acabar virando um ótimo aparato discursivo para fingirmos que estamos longe do risco de criarmos nossos próprios embates e assimetrias, em que as dinâmicas de poder também vibram.
Tenho minhas dúvidas.
-6.
Bom, de fato, somos diferentes. A modernidade produziu essa diferença e tá aí cumprindo sua função. Mas se estamos falando de cultura e processos socioculturais, nada do que fazemos é excepcional, porque pode ser apreendido. Quem disse isso não fui eu, foi a Leda Maria Martins. E ela continuou: “aquilo que nos habita como pensamento pode habitar qualquer pessoa”. Ter intimidade em relação aos nossos saberes não nos confere nenhum tipo de superpoder. Aposto que as percepções do que é “nosso” são bem diferentes. Mas como encontrar zonas de contato entre elas sem nos anularmos, sem omitirmos nossas infinitas discordâncias? Para senti-las, é preciso botar os posicionamentos para jogo, desejando que em algum lugar eles se toquem e se transformem a partir desse encontro.
-6.1
Esse negócio de ser especial é uma merda para quem é negra e escreve críticas.
-6.2
Sobre ser crítica e negra:
#1: não precisamos ativar a todo momento a primeira voz do singular nos nossos textos para estarmos implicadas no que estamos escrevendo. o que era uma questão de posicionalidade, tornou-se exigência (para nós, negras). e isso não é bom.
#2: não damos conta de tudo e nem temos todas as ferramentas para ler e discutir sobre filmes (negros). e tá tudo bem. não saber é o que também possibilita continuar trabalhando.
#3: falar que críticas são “negativas” ou “positivas” é uma redução terrível, se quisermos ir ao encontro com as obras, habitar a contradição delas. logo, escrever criticamente sobre filmes de realizadoras negras não deveria ser um problema e nem deveria nos tornar brancas (pasmem, já ouvi isso!), quando levantamos o desejo de não ativar uma sensibilidade contemplativa ou de pura aderência em relação às obras.
#4: pensar não é coisa de branco, certo? certo.

Amor Maldito (Adélia Sampaio, 1984)
-7.
Se temos um Pater, por que não procurarmos nossa Mater, né? Adélia Sampaio tá aí, mas o desejo pelo pioneirismo sob qualquer circunstância (primeira de tal ano, segunda de não sei o que) só serve para reproduzir competitividade e produzir silêncios historiográficos. Não que eu tenha apego à flecha do tempo como categoria para elaborar narrativas, mas a repetição dessa disputa, com certeza, dispara uma série de problemas em todas as temporalidades.
O modo capitalista-neoliberal de estar no mundo, além de adorar um token, ama ver preto “brigando entre si” em busca de favorecimento individual. Esse tipo de conflito só endossa o não reconhecimento da existência de outros movimentos, parcerias, discursos, projetos, pessoas, questões materiais e entraves que possibilitaram e cocriaram (des)especificidades para a chegada de realizadoras e realizadores negros no campo. Ser o primeiro ou primeira, no final das contas, pouco tem função quando a gente se propõe a olhar para as coisas de maneira mais complexa e conjuntural. Que tenhamos conflitos. Mas pela construção de um terreno onde as oposições nos mobilizem e nos desloquem de um ponto, ideia ou certeza — que até então compartilhamos — em direção a um outro lugar.
-7.1
Imagina se a gente descobre que teve um filme realizado por uma cineasta negra antes da Adélia? Os saberes, tecnologias e memórias pretos são queimados desde sempre, né? Nada, afinal, é uma certeza. Mas sempre há um indício que vibra e permanece. Se isso acontecer, vamos destronar a pioneira da vez? Quando nos dermos conta de que a linha histórica pós-Adélia que está sendo elaborada hoje ainda-já está cheia de lacunas… Com certeza voltaremos a esses escritos e nos perguntaremos, no mínimo, sobre os danos provocados pelo desejo de escolhermos narrar essas realizações pela via da excepcionalidade.
-8.
Na edição especial da Filme & Cultura (1983), Grande Otelo faz um comentário sobre Alma no Olho (Zózimo Bulbul, 1979): “[ele] fez um [filme] que era a exaltação dele mesmo. De certo modo, pode até ser um libelo da raça através das imagens, mas como o Zózimo tem, ou teve, uma imagem de ser um negro bonito, isso bateu em mim de outro jeito”.
Parece picuinha, né? E pode ser. Mas olha só: temos aqui a leitura de um ator negro sobre um curta-metragem de uma pessoa que, posteriormente, seria considerada como fundamental para a construção da ideia do cinema negro no Brasil. Não é qualquer ator. Não é qualquer comentário. O que podemos investigar a partir dessa imagem projetada por Grande Otelo em relação ao Zózimo? Como a questão da aparência possibilitava ou interditava Zózimo dentro do campo cinematográfico? Isso influiu na realização de seu primeiro filme? De onde parte, por sua vez, essa “desconfiança” de Grande Otelo, mesmo considerando o Zózimo, e consequentemente seu filme, como um “libelo da raça através da imagem”? Quais leituras podemos traçar a partir daí?
Zózimo, na mesma revista, comenta sobre o cinema brasileiro e a representação negra nas telas: “ninguém, a não ser no período do Cinema Novo, dignou-se a escrever um papel sério para o negro. (…) O próprio Grande Otelo, um dos nossos melhores atores, é sempre visto nos piores papéis”.
Como o ator e diretor construiu em sua trajetória essa legitimação do Cinema Novo? Só por sua participação nos filmes? O que estava em jogo? E essa afirmação em relação ao Otelo: o que pode ser entendido como “piores papéis”? É a partir daí que se estrutura a hierarquia entre as possibilidades representacionais? Como isso se edificou na época? Como isso impacta nossas percepções, recepções e leituras sobre os filmes do passado e do contemporâneo?

Também somos irmãos (José Carlos Burle, 1949)
-8.1
“As designações de ʽrepresentação positivaʽ versus ʽrepresentação negativaʽ em relação às representações da pretitude e de pessoas negras podem ser frustrantes. Tomadas como simples descritores, são categorias limitantes que não nos permitem acessar a gama completa e complexa de imagens que circulam nos meios de comunicação, nem permitem a possibilidade de envolvimento matizado com essas imagens por parte das pessoas que as consomem. Os usos convencionais de políticas ʽpositivasʽ e ʽnegativasʽ apoiam políticas de respeitabilidade e de fechamento de possibilidades de concepções e desempenhos de identidades multifacetadas. No pior dos casos, invocar estas categorias sem críticas reforça as ideologias racistas que utilizam discursos de excepcionalismo negro para marginalizar ainda mais os comportamentos pretos e as pessoas que se desviam das normas brancas, de classe média e heterossexuais.” [tradução livre] (Racquel Gates, em Double Negative)
-8.2
O discurso do Zózimo em relação aos papéis de Otelo, além de ser reducionista, parece fazer parte da rejeição acentuada cultivada pelos cinemanovistas em relação às chanchadas.
Vamos desconsiderar que, por exemplo, Moleque Tião (José Carlos Burle, 1943) foi inspirado na biografia de Grande Otelo e foi protagonizado por ele? E o personagem dele em Também somos todos irmãos (José Carlos Burle, 1949)? E em Ladrões de Cinema (Fernando Coni Campos, 1977)?
Num pólo oposto, a gente ignora Compasso de Espera (Antunes Filho, 1973), ou esse podemos salvar porque o roteiro foi coescrito com o Zózimo?
Inclusive, uma pequena observação: curioso o Zózimo ter escolhido esse filme do Antunes Filho para ser digitalizado em seu projeto Obras raras do Cinema Negro da década de 70, não? Estamos fazendo perguntas em relação a isso?
-8.3.
Quando perguntei, lá em cima, sobre o Grande Otelo, foi vislumbrando encontrar seu lugar de inventividade no processo coletivo que é fazer um filme. Se não podemos, simplesmente, ignorar a autoria daqueles diretores e diretoras que assinam as obras, por que não podemos provocar um deslocamento no modo de olhar para esses filmes do passado através da produção crítica? Descentralizar a figura da autoria dos diretores é escolher ir em busca de campos de força onde as criações e invenções de atores, atrizes e outros trabalhadores negros do cinema pulsem e revelem sua força criativa e autônoma, nos proporcionando percorrer pelas coisas que parecem escapar das próprias obras. É reposicionar nossa sensibilidade para a produção de um gesto crítico e historiográfico que vai atrás da agência coletiva e autoral de artistas negros e negras que correm o risco de passarem desapercebidos, quando decidimos revirar estritamente os olhos para os cinemas que são lidos como hegemônicos.
-9.
Você citou alguns filmes, como Madame Satã (Karim Ainouz, 2002) e Branco sai, preto fica (Adirley Queirós, 2014), que evidentemente traçam discussões sobre e elaboram performatividades que permeiam o campo cinematográfico negro. Fico me perguntando, no entanto, que tipo de relação (ou régua, não sei se é esse o melhor termo) pode ser ativada com esses filmes dirigidos por diretores brancos que, diante de leituras mais íntimas, irradiam a luz negra.
Até porque, desse modo, já entramos em outra pira, né? O quanto há de “negro” no que é “branco”? Quais filmes “brancos” entram nessa pretitude? Será considerado negro com quais parâmetros, entendendo que o substantivo e o adjetivo utilizados aqui têm conotações de afirmação política e de construção de um lugar protagonizado por pessoas negras? Será que isso reelaboraria a deslegitimação e o apagamento de produções negras, já que outros filmes “dão conta” de certas questões dentro dessa lógica?
[E, aliás, um outro ponto: qual seria o lugar de Vazante (Daniela Thomas, 2017) nessa discussão?]
-10.
Sabrina Rosa fazer co-direção com Cavi Borges é um problema? Glenda Nicácio fazer co-direção com Ary Rosa é um problema? Grace Passô fazer co-direção com Ricardo Alves Jr. é um problema? Eu, particularmente, acredito que não.
Acho que, na real, fazer disso um problema constrói coisas que são bem ruins, pois fica parecendo que: diretoras negras em codireção com uma pessoa branca não teriam autonomia ou não participariam com voz ativa nos processos criativos, a ponto de serem capturadas por essa figura; que dividir o posto de direção com uma pessoa branca deslegitima a posição de trabalho e a conquista profissional de uma realizadora negra; que assinar uma obra com uma pessoa branca retiraria o purismo e a essência necessários ao filme que será lido como negro.
-11.
Esse binômio (autoria negra x cultura negra) circunda territórios bastaaaante complexos. No entanto, me parece difícil ignorar os ruídos negros que ficam em boa parte dos filmes que você mencionou em sua carta. Ouvir esses sons quase inaudíveis nos permite construir outros abismos, estremecer certezas. Nada aqui é sobre preencher lacunas, mas recriar nos territórios quase vazios e escuros.
Racquel Gates e Michael Gillespie (2017) disseram assim: “a autoria, por exemplo, embora uma lente óbvia de análise, é uma linha de investigação muito achatada quando a produção de filme e mídia é um processo inerentemente colaborativo. A circulação, a recepção e as vidas posteriores do filme negro e da mídia são tudo menos diretas.” [tradução livre].
Tudo que é apertado rasga (Fabio Rodrigues Filho, 2019) aparece como uma pista, né? Ao fazer um remix de cenas de personagens protagonizados por atores e atrizes negras como Ruth de Souza, Zezé Motta, Luiza Maranhão, Antônio Pitanga, Zózimo Bulbul, Grande Otelo, o filme-ensaio escava a filmografia brasileira e nos convoca ao encontro desses artistas que produziram campos de forças criativos e irrefreáveis a partir de seus trabalhos na atuação.

Barravento (Glauber Rocha, 1962)
“O filme é como uma locomotiva… Precisa seguir o seu destino… Mas… Mas… Mas… Mas… Algo atravessa.”
Se, num primeiro momento, podemos excluir Barravento (Glauber Rocha, 1962), Sinhá Moça (Tom Payne, 1953), A rainha diaba (Antonio Carlos da Fontoura, 1974) ou Madame Satã (Karim Ainouz, 2002) de dentro das discussões sobre o cinema negro brasileiro pois, de algum modo, esses filmes já têm seu destino, o jogo da montagem construído por Rodrigues nos leva a repensar essa falta de desejo em encarar e lidar com essa vasta filmografia. Quando finalmente tomamos um assento nesses filmes-locomotivas, o que Fabio Rodrigues Filho faz é deslocar o lugar da autoria para as performatividades daquelas artistas-personagens que — por vezes indesejadas, por vezes construídas para reforçar certos estereótipos e projetos ideológicos racistas — atravessam os filmes com seu olhar, seu corpo, sua presença. Não à toa, Fabio escolhe para o filme uma das cenas mais emblemáticas de Sinhá Moça, de quando Ruth de Souza se movimenta em direção à câmera, encarando e devolvendo o olhar para quem está em frente à tela. Rasga-se o quadro, nos conectamos com a inventividade preta e a autonomia criativa de seu corpo. Aquilo que era acidente, contrariando o que deveria ser destino, incontornavelmente vibra. E é negro.
-12.
Não ser vista é também não ser vigiada. (Glenda Nicácio)
-13.
Genialidade tem a ver com excepcionalidade, né? Get out.
-14.
Por quê não reviver os traumas da diáspora? Por quê artistas negros e negras não podem “reviver”, melhor seria criar, a partir dos traumas da afro-diáspora? Ou seja, expor as simbologias que imediatamente associamos a esses traumas, via mise-en-scène’s, no caso das artes cênicas ou do cinema? Proibição, ou até melhor, desvinculamento, é muito arte contemporânea branca; “não pode isso, não pode aquilo, e etc.”.
Artista negro vive para transformar. Ele não vive nem para voltar, nem para cortar laços. Vive para transformar, dá movimento histórico, crítico e estético. A gente não rompe laços, por mais traumáticos que eles sejam. É demais pedir para uma artista negra ou negro esquecer o que foi, na mesma medida, é demais instaurar um impedimento estético na diversa produção negra — por mais que o mercado ou o campo não queiram vê-la como diversa; mas aí o debate é muito mais complexo, muito mais.
Artistas negros tendem a reformular o trauma. Talvez, a gente transmute o trauma e, para isso, as amnésias são contraproducentes, pois se perde a prática ampla da crítica e do movimento. Ademais, talvez, essa transmutação do trauma esteja para além do filme que o retrata (considerando o cinema), mas para como a pessoa vai se relacionar com aquela obra, o que ela produzirá em relação com aquela poética e, com efeito, com o que transborda, involuntariamente, da poética, da artista negra ou negro. (Diego Araúja)
-15.
A mão sabe!
-16.
Em um texto recém publicado, a cineasta Danddara apontou: “o fato de que, no Brasil, as poucas reações (nenhuma até hoje escrita) ao meu primeiro filme [Gurufim da Mangueira] foram desqualificações a aspectos formais da obra, ou à minha performance como criadora pioneira de um cinema autorreferenciado autoral, em nada diminuiu a relevância da realização. Mas eu estava ansiosa para discutir autoimagem e a autorrepresentação da mulher negra no cinema brasileiro… e tudo que ouvi, além desses muxoxos de alguns incomodados, foi silêncio”.
Me preocupo com os silêncios que continuam a ecoar. Não reivindico aqui uma crítica afrocentrada, que demande uma gramática específica (ancestralidade, lugar de fala, empoderamento, etc) para o encontro com a produção audiovisual negra. Não precisamos reelaborar cativeiros linguísticos, afinal a língua por si só já tem um pouco disso. Conversar, escutar, argumentar e construir pensamentos em torno dos filmes deveria ser mais um ganho do que um fardo.
De um lado, temos um conjunto de obras que é ignorado ou preterido e, do outro, uma série de produções que foi legitimada pela audiência, mas seguem com poucas análises ou mediações críticas que abram mão de enquadrá-los na celebração da visibilidade e da representatividade. Que tal nos reaproximarmos de Kbela (Yasmin Thayná, 2015), Negrum3 (Diego Paulino, 2018), Pattaki (Everlane Moraes, 2018) e Perifericu (Rosa Caldeira, Vita Pereira, Nay Mendl e Stheffany Fernanda, 2020), por exemplo? Quais são as estratégias desses filmes? Quais são suas matérias? Para onde eles apontam? Quais são as elaborações formais que produzem seus discursos?
Convocar essas possibilidades de leitura não é abrir mão de sua recepção e do seu impacto no mundo, mas um gesto possível de ampliar as formas de ver e pensar o cinema negro.
Bom, acho que essa carta ficou bem longa, hein? Mas, espero que minhas palavras tenham te chegado bem.
Beijo,
Lorenna.